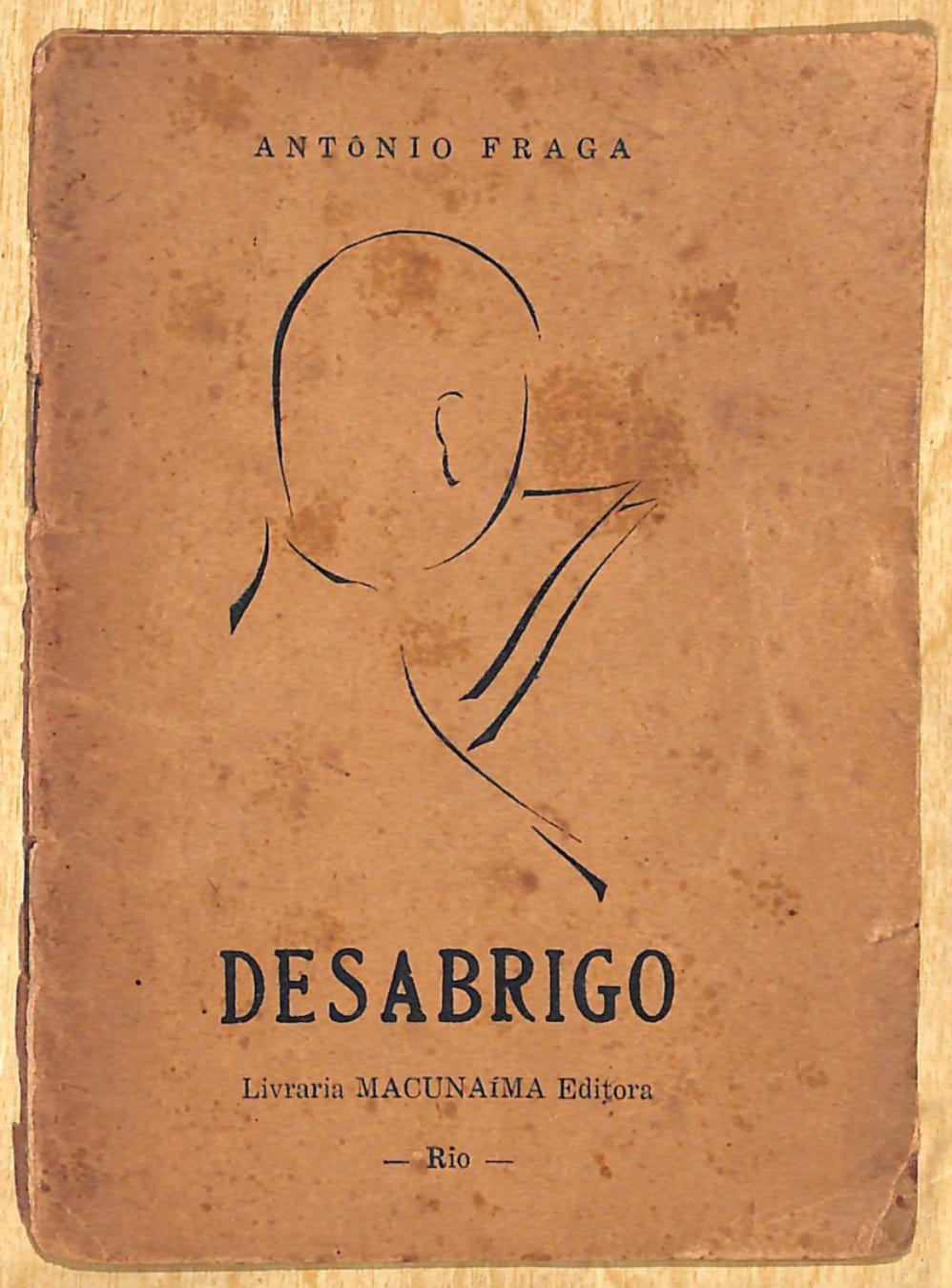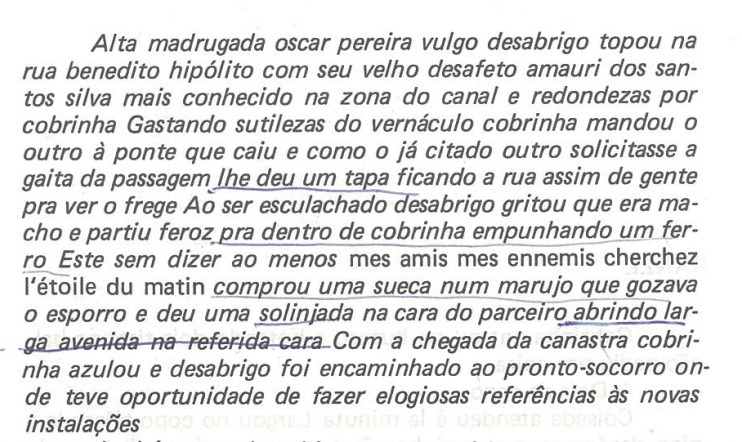Todo dia um malandro e um otário saem de casa
Outro dia uma @ liberal do twitter tentou culpar o governo Lula pela recuperação judicial da Starbucks com esse argumento:
Sim, no estágio atual do capitalismo não basta que você participe do sistema ativamente, você deve facilitar o trabalho do capitalista sendo otário pra fazer a economia girar. Antigamente os ideólogos liberais defendiam o princípio da concorrência como um dos pilares do mercantilismo, hoje em dia eles ficam botando pilha pra você consumir o mais rápido possível antes que comece a pensar em questões como custo e benefício e margem de lucro de barista multinacional arrombado.
E como todos nossos textos de abertura esse aqui também é um lembrete de que assinar Conforme solicitado apresenta um índice de aproveitamento excelente pois nossa newsletter é barata (R$ 15 mensal, R$ 150 anual ou R$ 250 anual plus) e apresenta um volume de texto razoável, pra não dizer excessivo.
Nesse número Arnaldo imagina alguns plots de filmes de Sessão da Tarde adaptados para a realidade brasileira, Gabriel comenta as relações de raça em Dungeons & Dragons e João divide aí seus sentimentos sobre Matthew Perry, o eterno Chandler Bing daquela série Turma da Mônica.
É isso. Todo dia um otário e um malandro saem de casa, e se eles se encontram sai negócio. O problema é que o otário somos nós.
Sessão da tarde, but brazilian
Arnaldo Branco (Instagram: @arnaldobranco)
Muitos dos filmes da Sessão da tarde partem de fórmulas consagradas e clichês de gênero para deixar a gente naquela zona de conforto gostosa que só um final feliz pode garantir. O problema é que se tratam de produções americanas e certas premissas não migrariam muito bem para o contexto brasileiro. Abaixo vemos alguns modelos gringos adaptados para fazer sentido por aqui:
Freaky friday luta de classes
Um pobre de direita, que ama o capitalismo mas não é correspondido, deseja todas as vantagens econômicas desfrutadas por seu vizinho, um socialista de iphone. Por causa de um aplicativo mágico instalado em seu celular xiaomi ele consegue trocar de identidade com o sujeito, tomando posse de seus bens mas ao mesmo tempo adquirindo consciência de classe — o que atrapalha um pouco o gozo do seu novo status social, já que fica com uma imensa vontade de dividir seus recursos com os mais desfavorecidos.
Mas aí ele descobre a culpa burguesa — um mecanismo que o libera de fazer isso já que se preocupar com os outros parece ser um tributo pesado o suficiente, e fica tudo bem.
De volta para o CLT
Filmes de viagem no tempo geralmente exploram os grandes temas: um cidadão médio testemunha a queda da Bastilha, um sobrevivente de Auschwitz volta para matar Hitler, um herói de ação ganha a guerra do Vietnã sozinho, provando a incompetência do exército americano pela segunda vez. Mas um viajante temporal partindo de terras brasileiras não ia querer porra nenhuma com a história da humanidade.
Brasileiro é um bicho escaldado: voltar ao passado para alterar o destino da nação? Ele já tentou isso sem precisar viajar no tempo, nas tais jornadas de 2013 por exemplo, e deu no que deu — obrigado mas não, obrigado. O negócio é ir para uma época onde a situação era melhor, ou pelo menos tão boa quanto possível, tipo no primeiro mandato do Lula, e ficar lá quietinho, aproveitando coisas que não voltam mais, como direitos trabalhistas e seus parentes mentalmente estáveis antes do advento das redes sociais. Voltar para 2023 e descobrir que o importante é a viagem e não o destino? Não fode.
O clímax vai ser em 2013, quando o viajante em questão deixará de ir nas manifestações para comprar bitcoin com intenção de revender antes da bolha estourar.
Policiais que se odeiam forçados a cooperar
A dupla de policiais que se odeia e é obrigada a trabalhar em parceria talvez possa funcionar nos Estados Unidos, onde pelo menos podem se detestar enquanto esperam para ganhar um fundo de pensão razoável — tanto que não tem um filme desse tipo em que os tiras não fiquem na viatura fantasiando sobre passar o resto da vida pescando depois da aposentadoria.
Além de brutalizar um cidadão ou outro, a rotina de um policial americano lotado em um grande centro urbano não é tão estressante quanto a de um brasileiro, para quem se envolver em tiroteio é uma situação tão comum quanto cobrar propina de traficantes fortemente armados.
Aqui, se dar mal com um colega de trabalho pode acabar em tragédia — não só porque talvez pareça uma boa ideia matar um parceiro chato pra não ter que dividir o arrego, mas como também porque pode ser bem preocupante entrar em uma troca de tiros com uma facção criminosa dependendo da cobertura de um desafeto.
No Brasil nosso filme poderia até começar com a premissa original, mas a chance é grande da trama terminar na cena do enterro de um dos protagonistas.
Vilão que luta contra um cachorro
A figura do vilão extremamente malvado que trama contra um cachorro carismático e que é mais inteligente do que as autoridades competentes — uma premissa bem verossímil aliás — não teria moleza contra os tuiteiros brazucas que ficam hiper sensibilizados pelo sofrimento animal mesmo com a concorrência de todas as tragédias humanitárias que a gente enfrenta regularmente.
O cachorro nem ia ter que liderar uma turminha de crianças espertas em uma grande aventura para acabar com os planos malignos do bandido, a Luisa Mell pode muito bem cuidar disso sozinha.
Dungeons & Dragons e racial coding
Gabriel Trigueiro (Instagram: gabri_eltrigueiro)
Esta semana escutei este episódio de Code Switch, um excelente podcast da NPR que discute temas raciais de um jeito bem original e divertido, e gostei muito de como os maluco costuraram o tema de sempre (raça e racismo) com a história de Dungeons & Dragons, mais conhecido como D&D, tu sabe, provavelmente o RPG mais famoso que há.
O lance é que sendo um sistema de RPG baseado no gênero fantasia medieval, um gênero constituído a partir de uma idealização romântica e problemática da Europa medieval, não tinha como ser muito diferente, correto? O negócio é que o buraco é ainda mais embaixo.
Sabemos que Gary Gygax, um dos criadores de D&D, se considerava um “determinista biológico”. Era um camarada que falava para quem quisesse ouvir que o cérebro de homens e mulheres eram diferentes e que, portanto, homens e mulheres não poderiam ser tratados como iguais.
Além disso, não é de se estranhar que “raças” como orcs, por exemplo, fossem descritas como selvagens, não-civilizadas e inerentemente más. Aliás, a lógica aplicada era a seguinte: se você fosse filho(a) de um orc, logo você iria herdar essa disposição para o mal e a selvageria, o que é, aliás, a definição básica de um determinismo biológico racialista de almanaque, plmdds.
Pense ainda na caracterização, não somente física mas igualmente psicológica, dos elfos negros e de como ela lembra determinados tropos racistas de fundamentalistas religiosos cristãos e aquele papo de Marca de Caim e tal.
Nesta matéria antiguinha no Gizmodo, Linda Codega fala, por exemplo, sobre os problemas de “racial coding” em D&D e explica didaticamente o conceito:
Racial coding is when language used to describe something that is seemingly race-neutral (in this case, literal fantasy) imitates stereotypes associated with racism without a direct one-to-one association. Racial coding allows for subtle racism because it allows people to be racist in ‘safe’ ways that can be dismissed by pointing at the race-neutral stand-in. There are many ways in which Dungeons & Dragons unintentionally encourages racism through racial coding.
Orcs are the easiest example. When Tolkien represented them in Lord of the Rings, they were described as “degraded and repulsive versions” of “Mongol-types,” which in his era referred broadly to Asian peoples. When Gygax reinterpreted them for D&D, he used racially coded language that tied orcs to Indigenous and Black stereotypes, and that interpretation hasn’t changed much in fifty years”.
Em um fórum de Perguntas & Respostas de 2005 (repare, não da década de 1970) Gygax argumentou que era razoável, e até moralmente justificável, um personagem com uma tendência Lawful Good executar prisioneiros mulheres e até crianças, se elas fossem de uma raça inerentemente má.
O detalhe é que ele justificou essa opinião arrombada com a expressão “nits make lice” (“lêndeas geram piolhos”), dita originalmente pelo Coronel John Chivington, durante o Massacre de Sand Creek, em que centenas de crianças indígenas tiveram o extermínio justificado com a frase “Kill and scalp all, big and little; nits make lice” (“Matem-nas e arranquem seus escalpos! Das grandes e das pequenas! Lêndeas geram piolhos”.
A coisa mais maluca de se estudar raça é o fato de que alguns discursos e dinâmicas passam a ser impossíveis de desver. Raça, você começa a entender, é um troço que tá na cultura e que se manifesta em qualquer coisa criada pelo engenho humano. Não tem jeito.
Não seria diferente em mundos habitados por dragões, beholders e sujeitos longilíneos de orelhas pontudas. Ainda mais quando existe o racial coding — uma forma de ser racista sem ser pego no teste do bafômetro, vamos colocar assim.
E já que você chegou até aqui, aproveito para recomendar “Leopardo negro, lobo vermelho”, do autor jamaicano Marlon James. É uma tentativa, muito bem sucedida, me parece, de escrever um épico de fantasia medieval a partir de uma cosmogonia africana. Escrevi aqui a respeito.
And Now For Something Completely Different
Ah, só mais um pequeno jabá: tem entrevista minha na Folha de São Paulo com dois excelentes autores angolanos: Djaimilia Pereira e Kalaf Epalanga. Dá uma espiadela depois e me diga.
0 bolas de ouro, indiretas de duas ex e do presidente da república
Arnaldo Branco
Sobre coisas que a gente sente e não esperava sentir
João Luis Jr (Medium: joaoluisjr)
Sentimento é sempre um negócio meio complicado.
Primeiro porque, na maior parte das vezes, você não tem exatamente muito controle sobre o que está sentindo. Você sente que tem motivos pra estar feliz mas mesmo assim fica triste, você tá balbuciando pra si mesmo “calma, calma” enquanto vai ficando progressivamente mais puto, o teste da Revista Capricho deu que era hora de focar nos estudos mas não apenas você é um homem de quase 40 anos que não estuda mais como é aí que você fica loucamente apaixonado por uma pessoa que mora em outra região do país e lá vamos nós, agora você está pesquisando a diferença entre anel de casamento e aliança de noivado.
Depois porque os sentimentos escapam, em grande parte, da nossa capacidade de análise, ao menos dentro de uma lógica mais ou menos cartesiana. Você sente coisas que não consegue explicar, porque muitas vezes não consegue nem mesmo entender, e aí não sabe exatamente o que fazer, porque você não entendeu e não consegue explicar pra alguém o que não entendeu. Sua terapeuta diz que todos os seus sentimentos são válidos, mas você olha pra alguns deles e tudo que você consegue pensar é “não, não, não, isso daí não pode ser válido não, me desculpa, eu sei que a senhora tem um diploma, mas sem condições essa porra”.
Então muitas vezes você se pega sentindo coisas que, se você colocar no papel, não fazem tanto sentido assim. Preocupação com situações que não aconteceram e muito provavelmente não vão acontecer, irritação com lances que só existem na sua cabeça, simpatia intensa com gente que você mal conhece e etc. E nesta semana vários de nós foram acometidos por um caso bem específico que é luto por ator americano que nenhum de nós conheceu ou interagiu pessoalmente na vida.
Isso porque com a morte de Matthew Perry, famoso por ter interpretado o personagem Chandler na série “Friends”, bateu em bastante gente - e me incluo abertamente nessa galera - o sentimento de estar vendo partir uma pessoa querida, alguém que fez parte da sua vida em algum grau. Talvez não um irmão, um grande amigo, mas ao menos um tio ou primo querido de quem você tem boas lembranças e que você gostava de saber que estava bem, tranquilo, ver uma foto dele curtindo a vida de vez em quando.
E ainda que algumas pessoas no Twitter provavelmente estejam usando esse momento pra discutir a qualidade da série Friends ou imperialismo cultural norte-americano, a verdade é que existe algo até importante nesse sentir. Na ideia de conseguir se conectar de verdade com algo, na ideia de conseguir ser tocado pelo trabalho de alguém, na ideia de uma pessoa ser parte de uma coisa tão importante pra você que a perda dela se torna quase pessoal, e não apenas “cultural”, vamos dizer assim.
Num mundo tão cínico e onde tanta gente se esforça tanto pra desnaturar e racionalizar tudo até o limite do absurdo - “ah, então você tá triste pelo cara de Friends mas não chora PELAS PESSOAS NA PALESTINA??????” - sentir alguma coisa, por mais complicado que seja de explicar ou por mais bobo que possa parecer, acaba se tornando sim um desses pequenos exercícios de humanidade.
Porque sentimento é sim, quase sempre, um negócio complicado. Mas também é um negócio bonito e uma das coisas mais importantes que a gente pode ter.
Vai na minha
Dicas de consumo do pessoal da redação
Mes amis mes ennemis cherchez l'etoile du matin
Arnaldo Branco
“Desabrigo” (1945), a novela de estreia do escritor Antônio Fraga, faz parte de uma estranha caça ao tesouro: toda década é “redescoberta” e ganha uma nova edição em vez de entrar logo para o cânon da literatura brasileira.
Talvez o motivo seja a vergonha da academia por ter tratado Fraga como uma mistura de curiosidade literária com figura trágica — o que é uma meia verdade, o escritor dava impressão de viver uma vida miserável de propósito para não perder contato com seu principal objeto de estudo: os malandros, os marginais, os despossuídos.
E Fraga era o Guimarães Rosa desses tipos sociais, misturando erudição, coloquialismo e gírias obscuras — além de desprezar a pontuação — para compor uma prosa riquíssima, que exigia atenção mas não era nada indecifrável, como no trecho abaixo:
Dividido em três partes (“Primeiro round”, “Segundo tempo” e “Terceiro ato”) o livro narra o triângulo amoroso entre Oscar Pereira, vulgo Desabrigo; seu rival Cobrinha; e a musa dos dois, a prostituta Durvalina — além de descrever a disputa territorial entre os dois vagabundos de rua. Seu estilo tem algo do escritor Damon Runyon, o cronista dos wiseguys de Nova York, mas com figuras muito mais pé-rapadas.
É a “Ópera do Malandro”, mas trocando o ponto de vista da zona sul pelo da zona do mangue mesmo. Um clássico.
“Meu estilo é pesado e faz tremer o chão”
Gabriel Trigueiro
A dica da semana é o documentário “Our Vinyl Weighs A Ton: This is the Stones Throw Records”, de Jeff Broadway, sobre a cultuada gravadora californiana especializada em hip hop cabeçudo. Como já disseram uma vez, a Stones Throw cresceu como uma espécie de “Motown do rap underground”.
Ou talvez estivesse mais para uma mistura de Impulse! Records com Warp Records. Foi a gravadora responsável por lançar “Madvillainy” (a obra prima conjunta de Madlib e MF DOOM) e “Donuts”, o incensado disco póstumo de J Dilla, para citarmos apenas dois pesos-pesados.
Embora a Stones Throw jamais tenha sido exatamente um grande sucesso comercial, daqueles que emplacam hit após hit na lista da Billboard, ela sempre foi a queridinha artsy da galera mais autoral do rap.
Isso fica evidente nos artistas que aparecem ao longo do documentário e em seus depoimentos entusiasmados: Tyler, the creator; Kanye West (na época em que ainda valia a pena escutar o que o bicho dizia); Questlove, Mike D, dos Beastie Boys, e Common.
“Our Vinyl Weighs A Ton” é um lembrete de como não só existe vida, mas todo um universo rico, amplo e complexo para além das convenções engessadas do mainstream e daquilo que foi definido um dia como sucesso comercial.
Talvez o verdadeiro sucesso seja os bons episódios que fizemos pelo caminho
João Luis Jr
“One hit wonder” é uma classificação muitas vezes usada de forma meio condescendente, num tom de crítica, pra sinalizar um artista que fez sucesso uma vez e depois nunca mais. Mas o lance é, que se você for pensar, até fazer sucesso uma vez, por conta de uma coisa, é bem mais do que a maior parte de nós vai fazer nessa vida. Afinal, quanta gente você conhece que atuou num filme que fez muito sucesso, que lançou um livro que vendeu pra caramba, que compôs aquela canção que ficou uns dois meses na cabeça de todo mundo?
Sucesso é uma combinação muito complexa de fatores que vão desde talento até oportunidade, timing e sorte, e mesmo experimentar isso uma vez que seja, é algo que acontece com uma parcela realmente ínfima das pessoas que estão aí todo dia criando, escrevendo, atuando, compondo.
Agora imagine o quão incomum é a experiência de ser, por uma década, parte da coisa que possivelmente mais estava fazendo sucesso no planeta? Foi mais ou menos isso que viveu todo o elenco de Friends, tanto quanto à oportunidade imensa de ganhar dinheiro e fazer sucesso como pouca gente já fez, como com a pressão que deve vir logo depois para continuar ganhando dinheiro e fazendo sucesso nas mesmas proporções.
E todos os os trabalhos pós-friends do elenco de Friends - e quase todos eles estiveram envolvidos em ao menos mais um bom projeto depois da série - o meu favorito, até por ser ele o ator que eu mais gostava entre eles, é sem sobra de dúvidas “Studio 60 on the Sunset Strip”, a série de Aaron Sorkin que Matthew Perry protagonizou entre 2006 e 2007.
No papel de Matt Albie, o roteirista que lutava com sua dependência química enquanto tentava salvar uma versão ficcional do programa “Saturday Night Live”, Perry se mostrava não apenas perfeito para o tipo de diálogo que tornou Sorkin famoso, como também demonstrava uma química incrível como atores do naipe de Sarah Paulson, Bradley Whitford e Amanda Peet, numa série que funcionava tanto como drama quanto como comédia - ainda que as esquetes fossem terríveis, preciso admitir. Lance “Zorra Total” na época ruim mesmo.
Então pra quem quer descobrir uma das melhores performances de um ator que muitas vezes é lembrado “apenas” por seu papel de maior sucesso, vale muito a pena conferir o que Matthew Perry fez em “Studio 60”, mais uma dessas grandes séries que foram canceladas muito antes da hora, o que é bem ruim, mas ao menos te permite assistir “a série completa” em bem pouco tempo.