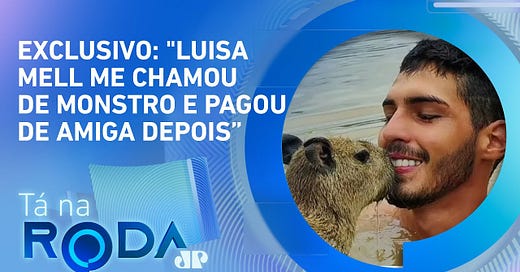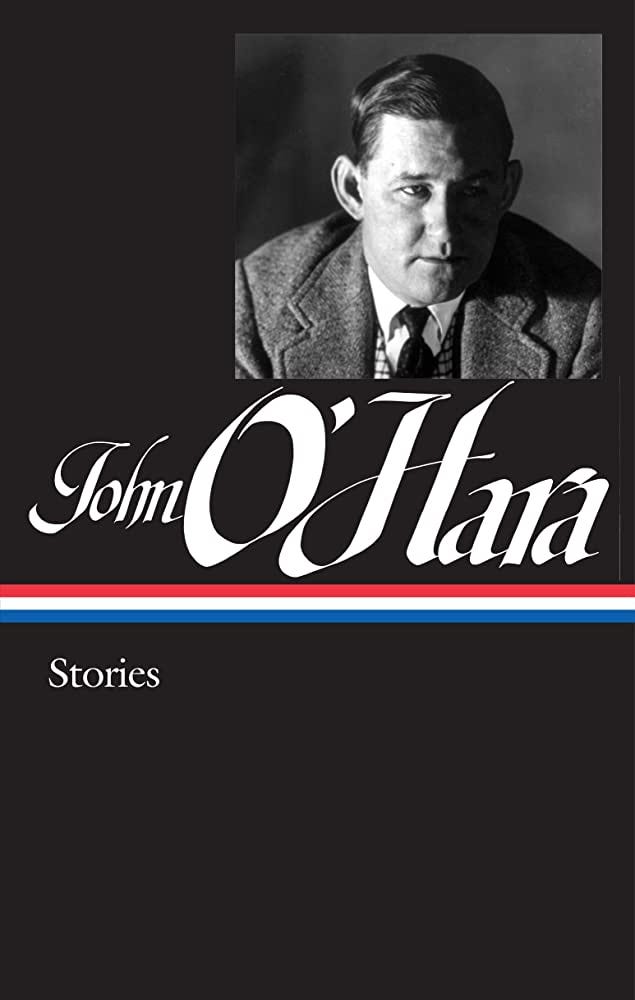A gente até tenta, sabe? Tenta colocar aquele dedo no pulso da sociedade, aquele ouvido no peito do coletivo, tenta capturar o zeitgeist como a molecadinha do desenho capturava pokemon. Queremos participar dos grandes debates, queremos discutir as atualidades, queremos chegar na sua casa como aquele amigo antenado que tem acompanhado aí as situações todas, clicou nos links, tá em dia com as polêmicas, sabe quem chegou vestido de galinha pintadinha no baile do Met Gala e porque Ari desmoronou ao saber que Brisa estava grávida de Oto na novela Travessia.
A questão é que, com toda sinceridade, é foda, amigos. Porque no mundo atual, tal qual numa propaganda do Polishop, sempre tem aquele “e não é só isso”. Não basta o Bolsonaro traficar joia, ele também falsifica carteira de vacinação; não basta a Shakira pegar de volta a árvore dela, os irmãos dela precisam sair na mão com o Piqué; não basta o Elon Musk ajudar golpe de estado na Bolívia, ele precisa ficar mandando emoji de cocô pra jornalista brasileiro. E tudo isso parece, de alguma maneira, estar relacionado com a Luisa Mell? Desculpa, galera, é muita coisa, fica realmente complicado de acompanhar.
Mas novamente, em mais uma semana, por causa de você, nós tentamos. E nesta sexta Arnaldo fala da PL 2630, a famosa “PL das Fake News”, Gabriel discute o duelo entre emergentes e dinheiro antigo no Rio dos anos 90 e João mostra como o drama da capivara Filó resume a internet contemporânea.
Também temos cartum, dicas da redação, açúcar, tempero, tudo que há de bom, e um pouquinho do elemento x.
Capivara Filó e um breve resumo do mundo mágico das redes sociais no Brasil de 2023
João Luis Jr (Medium: joaoluisjr)
Uma coisa fofinha acontece: Eis que surge um jovem ribeirinho fazendo adoráveis vídeos com um bebê capivara. Ela é orfã porque uma tribo indígena comeu seus pais, ela parece um cachorrinho diagramado pela Pixar, os vídeos são muito fofinhos, é praticamente a adaptação live action de um desenho da Disney que ainda não aconteceu, o que pode ter de errado nisso???
Pessoal descobre que a coisa não era tão fofinha: Bem, primeiramente se trata de um crime. Você não pode apenas botar um animal silvestre pra dentro de casa, independente de onde sua casa fique, tem coisas que são apenas ilegais. Depois que o jovem ribeirinho aparentemente não era tão ribeirinho assim, sendo na verdade um fazendeiro/influencer e estudante de agronomia que já teve outra capivara, que morreu, além de duas preguiças (uma morreu também), duas jiboias, uma paca, duas araras, dois papagaios, uma coruja e uma aranha. Basicamente não apenas não se trata de um inocente homem do campo como ele já vem, há algum tempo, tirando um dinheirinho em cima desse lance de vídeos de animais, pois tem quase um zoológico.
É aí que o Ibama faz o que se espera que o Ibama faça: cumpre a lei e vai lá multar o influencer, além de recolher a capivarinha pra que ela possa ser reintroduzida em seu habitat natural (que não é a casa de ninguém, porque ela é um animal real e não um dos que cantam com uma princesa em desenho animado).
O debate se estabelece em termos bizarros: As redes sociais estão divididas. Grande parte das pessoas parece achar que se você é contra alguém “adotar” um animal silvestre você é contra o amor, e outro grande grupo defende que o rapaz que pegou a capivara precisa é levar muita porrada, enquanto uma terceira facção, bem menos numerosa, está comentando “hmmm essa capivara, fritinha, com um arroz carreteiro…”. Poucas pessoas, em qualquer um dos grupos, parecem estar muito bem informada sobre a situação. Luisa Mell é acionada porque o assunto envolve animais.
No Twtter o tópico domina o ciclo de discussão por alguns dias, gerando aquela falsa sensação que só a rede de Elon Musk sabe causar de que essa é a coisa mais importante do mundo, ainda que diversas outras coisas bem mais sérias estejam acontecendo. Uma pesquisadora negra é expulsa de um voo sem explicações mas ninguém se comove muito porque ela não é um capivara, as grandes empresas de tecnologia lançam uma ofensiva contra a PL das Fake News mas com certeza não deve ser nada importante, está na home do Google apenas pra tentar me distrair da história da capivara, mas eles não vão conseguir!!!
O tema é cooptado pela extrema-direita: Uma grande verdade sobre as redes sociais é que não há nada, absolutamente nada, pequeno ou absurdo demais pra não ser problematizado pela esquerda ou cooptado pela direita. A diferença é que a problematização da esquerda costuma gerar quase sempre apenas debate e acusações internas enquanto a cooptação da direita gera golpes de estado, ataques ao STF e fake news que chegam até a o Whatsapp da sua mãe.
A direita então abraça a causa da capivarinha, com uma retórica que vai desde anti-povos originários (“malditos índios cruéis e anti-natureza que mataram a família da capivara!!!”), até anti-governo (“olha aí o PT fascista querendo impedir o cidadão brasileiro de ter seu animal silvestre doméstico!!”), com direito a uma deputada da União Brasil atacando funcionários do Ibama e tuiteiros perguntando porque o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente decidiu implicar logo com esse influencer (talvez tenha algo a ver com ele estar postando vídeos diários do crime ambiental que ele estava cometendo, sei lá).
Por fim a pressão da direita e das redes sociais vence e o influencer recebe de volta a capivara, deixando a importante lição de que as leis não são tão importantes, o risco de febre maculosa não deve ser tão alto e vale sim a pena pagar uma multa de 17 mil reais se você conseguir capitalizar bem mais com isso fazendo vídeos. Se der ruim pra capivarinha você pega outra, como parece que esse rapaz já fez antes.
Agora é esperar pra ver que coisa fofinha acontece semana que vem.
Ideologia de classe
Arnaldo Branco
O discreto charme da burguesia
Gabriel Trigueiro (Instagram: @gabri_eltrigueiro)
Esses dias eu tava lembrando dos personagens mais frequentes das colunas sociais cariocas da década de noventa: os “emergentes”, nome dado pela colunista social Hildegard Angel. Os emergentes foram apelidados assim em oposição ao dinheiro antigo carioca, à alta sociedade que dominava o status quo anterior.
Os emergentes não tinham sobrenomes com o peso quatrocentão das ruas da Zona Sul e sua fortuna havia sido criada e acumulada ao longo de uma ou no máximo duas gerações. Além disso, para o horror da elite mais tradicional, suas fortunas vinham de atividades comerciais com pouco prestígio social.
A rainha proclamada dos emergentes era Vera Loyola, alguém que havia emergido dos subúrbios cariocas para a Barra da Tijuca e, dinheiro novo, havia feito grana com uma rede de padarias.
Vera Loyola fez campanha para Lula, durante sua candidatura em 2002, e, além disso, é até hoje amiga pessoal de Benedita da Silva. Nos últimos anos, todavia, se desencantou com a política e abraçou o monarquismo. Pois é.
Como a própria Hildegard Angel previu lá no início, os emergentes foram incorporados à sociedade tradicional carioca quando entraram na sua segunda geração. Nesse sentido, o casamento do filho da Vera com a filha de Romualdo Pereira e Tisse Galliez Pinto foi o símbolo disso. Endogamia aqui é mato.
No entanto, durante a década de noventa o buraco era mais embaixo. A imprensa carioca, que sempre gostou de fofoca, se apressou a cobrir o surgimento da geração nouveau riche da qual Vera era líder, e a resistência do dinheiro antigo da Zona Sul, como uma história na qual uma aristocracia decadente dava os últimos suspiros de resistência diante de uma burguesia em ascensão.
Mas se Vera, hoje uma Gloria Swanson do Jardim Oceânico, representava os emergentes, a imprensa havia escolhido Carmen Mayrink Veiga como o símbolo do primeiro grupo. Carmen, ironicamente paulista de Pirajuí, foi rapidamente adotada pelo Rio de Janeiro em sua Belle Époque, na década de 1950.
Era neta de barão e se transformou no avatar do desconforto da aristocracia tradicional à emergência das donas de padaria ou, como a elite do Partido Conservador britânico se referia à Margaret Thatcher — “a filha do quitandeiro”. Carmen Mayrink Veiga era mais ou menos o que a Gerri chamou o Roman, em Succession: “A weak monarch in a dangerous interregnum”.
O fato é que a maior parte dessa rivalidade foi alimentada por engrenagens semelhantes às que criaram, e transformaram em entretenimento grotesco e misógino, o antagonismo entre Bette Davis e Joan Crawford, no star system hollywoodiano. Aliás, quem não assistiu Feud, a série de Ryan Murphy, por favor se dê esse presente.
Acompanhar a cobertura da imprensa sobre a rivalidade das duas é quase como assistir a um filme de Whit Stillman ou ler um romance de John O’ Hara, a quem uma vez Fran Lebowitz chamou de “o verdadeiro Fitzgerald” — no sentido de que era alguém que escrevia o que os ricos realmente faziam e que tinha um ouvido raro para dinâmicas e nuances de classe.
Vera Loyola uma vez perguntou a um jornalista que a entrevistava: “Para que o Leblon se eu tenho a Península?”. O sujeito, como você pode imaginar, não conseguiu respondê-la, assim como, cá pra nós, eu desconfio que eu também não conseguisse.
A nós a liberdade
Arnaldo Branco (Instagram: @arnaldobranco)
A explosão de ataques a escolas promovidos por grupos de disseminação de ódio trouxe de volta a urgência de votar o projeto de lei 2630, o PL das fake news, que propõe a regulação das redes sociais. A gente acha que certas iniciativas deveriam ganhar unanimidade pela gravidade do problema mas às vezes esquece que noções que dávamos de barato, como a eficácia das vacinas e a vilania dos nazistas, hoje estão em disputa.
De todo bueiro surgiu gente pra chamar a PL de censura, com o apoio ruidoso, e quem sabe até financeiro, das empresas de tecnologia que lucram muito com o conteúdo extremista que fingem não ter estrutura para coibir. Brotaram mártires da soberania do livre-pensar até entre gente que outro dia estava pedindo pra polícia moderar exposição em museu.
É engraçado o quanto essa galera do pensamento irrestrito tem pouco a oferecer na matéria. O projeto de lei virou um salvo-conduto para caras que querem dar a entender que esse ataque presumido à liberdade de expressão não deixa que eles manifestem as ideias inteligentes e elaboradas que nunca pareceram capazes de enunciar mesmo antes do advento da “cultura do politicamente correto”.
Esses querem fingir que se não fosse pela perseguição política que sofrem da esquerda malvada eles seriam tipo o Nelson Rodrigues, para citar um talento de direita que sofreu perseguição de verdade — e que na real aconteceu quando escreveu sobre sexo interracial e incesto, não quando falou merda tipo que a ditadura não torturava (até que descobriu que estava errado da pior maneira possível).
Fora que esse papo de combate à censura não dura dois minutos na luz do sol. Danilo Gentili, um dos críticos da PL 2630, aprendeu rapidinho os limites da liberdade de expressão quando foi obrigado a se desculpar com seus patrocinadores por uma piada que mencionava os trens para Auschwitz na ocasião em que moradores de Higienópolis rejeitaram a construção de uma estação de metrô no bairro — sim, porque lá moram muitos judeus e tal.
Pro sujeito não basta bolar uma piada ruim, ela precisa fazer algumas viagens no tempo e dar alguns saltos de lógica para fazer alguma coisa parecida com sentido. Na ocasião nosso paladino da liberdade fraquejou e até teve que fazer um tour de penitência pela Confederação Israelita do Brasil. Nessa guerra sagrada coube ao carinha o papel humilhante de prisioneiro.
Outro que teve que recuar para salvar a carreira depois de fazer uma piada ainda mais imbecil sobre fazer sexo com um feto foi outro comediante (é como ele se apresenta, não gostou processa o cara por falsidade ideológica): Rafinha Bastos. E é claro que ele também está em campanha contra o projeto de lei. Pelo jeito os limites da liberdade de expressão são tão difíceis de decorar quanto as fronteiras da península balcânica.
Portanto é legal conferir quem está ao seu lado na trincheira do livre arbítrio, às vezes pode ser só um otário com saudade de poder ser racista sem tomar processo .
Vai na minha
Dicas de consumo do pessoal da redação
“Don’t believe the persona”
João Luis Jr
Em 2020 John Mulaney era tranquilamente um dos maiores comediantes do mundo. Com especiais de sucesso na Netflix e sua persona extremamente clean e simpática, ele contava piadas sobre seu adorável relacionamento com a esposa, seus planos de não ter filhos, sua buldogue Petúnia e temas que iam de lembranças de infância até encontros com pessoas famosas.
Porém fora dos palcos as coisas não eram exatamente assim. Lutando contra a dependência de cocaína e remédios, Mulaney era também o cara que estava vendendo relógios pra comprar pó, gritando com os amigos que não queria ir pra clínica de reabilitação e encerrando seu casamento - para logo depois se casar com outra pessoa e ter um filho. Petúnia? Pesquisei aqui e faleceu semana passada.
E é no vão entre quem John Mulaney era nos palcos e quem John Mulaney era na vida privada que caminha o novo especial do comediante, batizado de “Baby J” - referência a uma piada do show que cita o que teoricamente seria o nome dele “nas ruas” - uma abordagem crua e até mesmo pesada do período de dependência química, intervenção dos amigos e reabilitação que o comediante viveu no fim do ano 2020.
No fim o especial, além de um excelente show de comédia e a da estreia dessa nova “personalidade” do comediante, acaba sendo mais uma pecinha no debate entre o quanto um número de stand-up pode ou deve ser realmente “sincero” e também o tipo de expectativa moral que colocamos nos artistas de que gostamos, e se isso faz algum bem pra eles ou pra gente. Mas sim, é engraçado, pessoal, exceto esse lance da Petúnia ter falecido que me pegou um pouco mesmo.
O segredo é não se importar
Arnaldo Branco
Uma das últimas polêmicas do twitter — digo “últimas” porque aconteceu recentemente e não porque aquela pocilga está com os dias contados — começou quando uma influencer de cinema reclamou da duração do novo filme do Scorsese, que tem quase quatro horas.
Tirando o fato de que o tamanho de um filme nunca serviu de parâmetro para nada — “Era uma vez na América” tem 3h50 e “Emoji, o filme” tem 90 minutos; “Toy Story” tem uma hora e vinte e “Pearl Harbor” tem mais de três — o que mais espanta é o número de envolvidos nessa discussão que poderia ter sido não um email, mas uma gostosa fofoca entre amigos e não um simpósio aberto sobre capacidade intelectual e déficit de atenção.
Acho curioso que quando aparece um sujeito bêbado querendo puxar briga na rua as pessoas sabem fingir que não viram; mas qualquer um querendo chamar a atenção na internet é prontamente atendido. Por isso minha dica de hoje é meio inútil, trata-se de um filme que quem ainda não assistiu pelo menos sabe que existe: o colosso de três horas e quarenta e sete minutos Lawrence da Arábia (1962).
Além da extensa minutagem, “Lawrence” tem motivos de sobra para ser cancelado nos dias de hoje: é sobre um colonizador, tem blackface e nenhuma mulher no elenco. Mas é um dos maiores de todos os tempos, um filme sobre a perda de identidade de um homem que nunca soube mesmo quem era de verdade; é o “Coração das Trevas” do deserto, e tem tantas cenas memoráveis que praticamente todas já foram citadas em outros filmes pelos milhares de cineastas que cultuam a obra de David Lean como uma das grandes conquistas da humanidade.
E sobre a tentação de entrar em discussões inúteis como essa do tamanho correto de um filme, pense no que o protagonista desse épico diz sobre a dor física: “the trick is not minding” — frase que aliás foi reaproveitada em “Todos os homens do presidente” do Alan J. Pakula, certamente outro paga pau dessa saga de sangue e areia.
Fique com esse vídeo explicando como foi concebida a entrada do personagem Ali (Omar Shariff) no filme:
“O verdadeiro Fitzgerald”
Gabriel Trigueiro
Vou aproveitar o gancho da minha menção ao John O’ Hara, no texto sobre aVera Loyola, e vou indicá-lo aqui, no VAI NA MINHA. Por algum motivo insondável, O’ Hara é hoje um daqueles autores pouco lidos e falados, mas que já tiveram o seu momento lá no século passado.
O’ Hara fazia nos EUA algo análogo, do ponto de vista da qualidade literária mas também da precisão sociológica, ao que Balzac fez com sua crônica de costumes ao retratar a sociedade francesa — de novo, o conflito entre uma aristocracia decadente que morria agonizando e uma burguesia ascendente que surgia com estardalhaço.
Qualquer um que tenha acompanhado a discussão sobre os nepo babies que rolou recentemente percebeu a grande piada que é a sociedade norte-americana: os sujeitos realmente acreditam na ideia de que são uma sociedade igualitária. Também acreditam realmente em meritocracia.
O mito fundacional da América é a ideia de que, por ser uma sociedade sem um passado feudal, ela nasceu como o simétrico oposto às estruturas monárquicas e antiquadas do Velho Mundo. Eu e você sabemos como isso é papo furado.
Tivessem lido o seu John O’ Hara, saberiam que o republicanismo nos EUA é um monarquismo com outro nome. Talvez não haja rei, mas certamente há aristocracia.
O’ Hara foi um grande romancista (vá atrás de “Encontro em Samarra”, depois me agradeça), mas se destacou mesmo como contista. Publicou um monte na New Yorker e meio que criou o formato, com suas convenções e estilo, daquilo que hoje chamamos de “New Yorker short story”.
Era um mestre na escrita de diálogos e influenciou uma geração de escritores como Cheever, Raymond Carver, Updike e até Salinger. Enfim, leiam John O’ Hara, pelo amor de Deus.