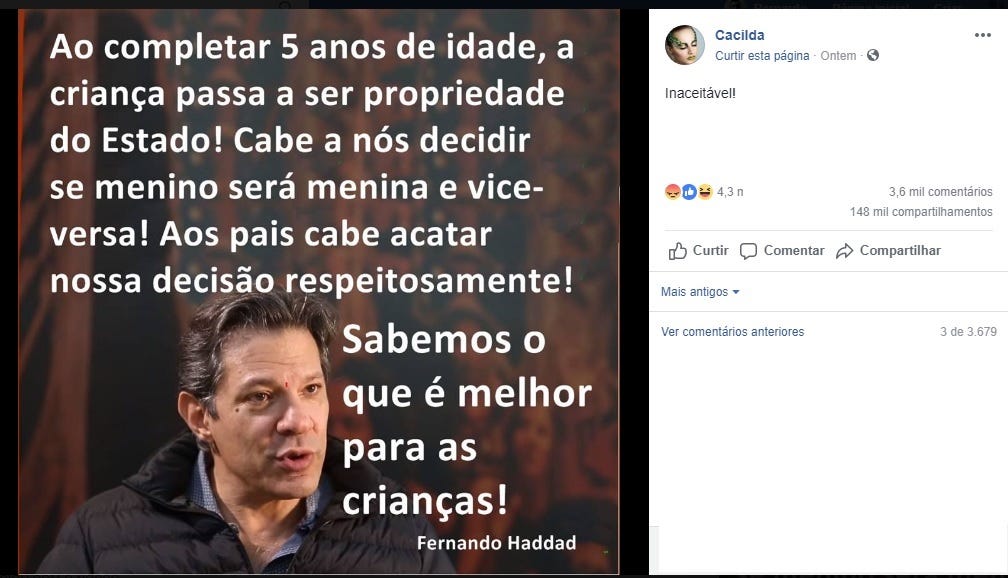Conforme solicitado #35
Dias estranhos
Bem vindo à trigésima-quinta edição de Conforme solicitado, esperamos que essa newsletter te encontre bem. Ou não te encontre, se você está numa mais low profile, querendo se esconder. E na verdade esse é um desejo retórico, a gente sabe que tá tudo meio estranho.
Na mesma semana em que o Bolsonaro e o Trump finalmente foram obrigados a encarar a Justiça, o que realmente movimentou a opinião pública foi a divulgação dos pôsteres do filme da Barbie e o fato do Elon Musk ter trocado o selo azul das contas oficiais no twitter por uma mensagem que diz “esse perfil pode ser verificado por que o usuário pagou ou porque é mesmo uma conta legítima”, criando a categoria Verificados de Schrödinger.
Talvez isso seja porque as últimas notícias estão mais complexas do que as que nós recebíamos no governo passado, tipo “presidente brinca com recorde de mortes na pandemia” ou “secretário da cultura faz cosplay de nazista”. Agora a gente precisa estudar o que é arcabouço fiscal pra saber se é bom ou ruim (aparentemente é o teto de gastos depois da harmonização facial).
Nesse número temos Arnaldo falando sobre como é bom ser de direita, Gabriel detonando a tour racista do Scott Adams (o criador da tira “Dilbert”) e João preocupado com a galera da Agência Lupa. Além disso, tem cartum do Arnaldo, dicas e a gente fazendo insinuações passivo-agressivas sobre como você deveria assinar nossos planos mensal (15 reais), anual (150) e anual plus (250) mesmo que o conteúdo continue aberto pra todo mundo.
É isso. Uma boa sexta-feira estranha pra você.
Ser de direita, gostoso demais
Arnaldo Branco (Instagram: @arnaldobranco)
Acho que não preciso explicar que não estou fazendo essa afirmação no título por experiência própria — não sou de direita, mas até tenho amigos que são. Na verdade não tenho não, tô zoando. Esse bonde já partiu antes mesmo da eleição de 2018, Deus salve a minha bolha.
Digo isso porque a Folha de S. Paulo publicou um editorial contendo o seguinte trecho: “opondo-se ao petismo, o bolsonarismo pode dar vigor à política brasileira desde que abandone a violência, a atitude antidemocrática e a polarização irracional”. Sim, os caras estão pedindo algo equivalente à cachaça sem álcool. Depois da teoria do bolsonarismo sem Bolsonaro — que diz que a movimento virou mais uma disposição de espírito do que um culto de obediência cega ao seu líder — agora temos o bolsonarismo sem bolsonarismo.
Bom, não dá pra esperar muito de um jornal que durante a ditadura emprestava seus caminhões de entrega pra servir de Uber de torturador. Mas esse artigo saiu numa semana em que a Polícia Federal divulgou provas de que o governo Bolsonaro agiu para impedir que eleitores de Lula conseguissem chegar às urnas, e uma semana antes do ex-presidente depor sobre as jóias que ele roubou e/ou recebeu como propina. É ultrajante pedir que um movimento inspirado por um vagabundo desse naipe dê vigor à política brasileira, a não que seja pelo exemplo contundente da sua prisão imediata.
Além disso, o cara ainda deve responder pela gestão da pandemia que terminou na morte de 700 mil pessoas, pelo genocídio Ianomâmi, por disseminar notícias falsas, por conduzir um esquema para receber parte do salário dos funcionários do seu gabinete, pela interferência nos órgãos de segurança para salvar os filhos da cadeia e pela tentativa de promover um golpe. Essa disposição da Folha em perdoar é inédita até nos cornos da obra do Nelson Rodrigues.
Enquanto os jornais faziam séries de reportagens para comentar a sério escândalos que envolviam tapioca e pedalinho, não tinha esse arrego todo para o Lula e para o PT. Impressionante como um ex-presidente de direita desperta amor pelo devido processo legal até em quem já chamou ditadura de ditabranda.
O que aconteceu com Scott Adams?
Gabriel Trigueiro (Instagram: @gabri_eltrigueiro)
Humorista é igual a roqueiro: ou morre cedo ou envelhece para se tornar reacionário. Gente do Casseta & Planeta; Terry Gilliam (e pensar que aquele velho babão é um Monty Python); Chris Rock e até Dave Chappelle. A lista é grande.
O último a sair do armário como reaça foi o Scott Adams, criador do Dilbert – uma tirinha satírica sobre ambiente corporativo surgida em 1989 (sim, bem antes de The Office). O caldo começou a entornar quando Adams começou a flertar com o trumpismo em 2016.
A princípio o sujeito queria fazer parecer para o público que a sua admiração pelo laranjão era uma admiração qualificada, feita com reservas. Mas como não existe meio facho, apenas facho inteiro, logo Adams já estava jogando migalha para supremacistas brancos em suas redes sociais.
A linha do tempo é complexa e acidentada, com o sujeito colecionando um episódio de racismo atrás do outro, mas vamos atentar aqui ao mais relevante. Não tem muito tempo Scott Adams classificou os negros (sim, de forma coletiva e indistinta) como “um grupo de ódio”.
Também falou que qualquer branco deveria “se manter longe” deles. Isso tudo porque um instituto de pesquisa partiu da pergunta “É OK ser branco?” (uma frase idiota, surgida no 4CHAN como meme racista e em seguida popularizada por supremacistas, mas deixa baixo) e descobriu que apenas 53% dos negros entrevistados responderam afirmativamente.
O problema é que, além da metodologia cretina do instituto, Adams fingiu descontextualizar a origem da frase e o seu sentido originalmente racista. No início do século 20 racistas defendiam seus argumentos primeiramente com teorias cujas bases científicas eram absolutamente furadas, mas que à época gozavam de prestígio e respeitabilidade intelectual em muitos círculos sociais: eugenia e o tal do “racismo científico”, de modo geral.
Em meados do século 20 o discurso mudou – teorias pseudocientíficas saíram de moda e ascenderam os apitos de cachorro [dog whistles], como por exemplo políticos conservadores que ganhavam notoriedade com o eleitorado racista sem se assumirem abertamente como racistas, mas dando uma piscadela marota e no sigilinho para essa galera.
Por exemplo, quando alguns desses políticos encampavam uma plataforma law and order, basicamente o que eles estavam fazendo era acenar para um programa essencialmente autoritário de repressão social, com tintas evidentemente racializadas, mas sem o ônus de se assumirem como racistas.
Já à medida que chegamos ao fim do século 20, o que vemos com frequência indisfarçável é a galera que justifica falas racistas a partir de argumentos supostamente libertários.
É o sujeito que se apresenta como mártir da liberdade de expressão, mas invariavelmente para advogar a favor de algum grupo imaginariamente oprimido: sempre, ou quase sempre, o homem branco.
Sobre libertários, vale aquela máxima (que acabo de inventar, mas que me parece historicamente acurada): a intenção aberta pode até não ser reacionária, mas as consequências do seu argumento certamente o são.
A ironia é que conservadores e reacionários têm saudades de uma América que foi construída e estabelecida por Democratas e por políticas sociais razoavelmente de esquerda, ou pelo menos progressistas.
Então o resumo é que a, digamos, idade da inocência conservadora, os EUA do pós-Segunda Guerra (com casinhas de cercas brancas nos subúrbios, parque industrial pica e afluência econômica) foi uma criação da turma que hoje eles chamariam de comunistas.É importante lembrar que libertários sempre dependeram eleitoralmente de racistas e sempre passaram pano para racistas.
Como uma vez disse a Toni Morrison, o objetivo principal do racismo é a distração. Ele te impede de seguir a sua vida normalmente, porque sempre te coloca numa posição de ter que refutar e explicar toda a sorte de absurdos e aberrações. Esse caso aí do Scott Adams é apenas mais um exemplo disso. Infelizmente não foi o primeiro e certamente não será o último.
Às vezes me preocupo um pouco com a galera da Agência Lupa
João Luis Jr (Medium: joaoluisjr)
Por mais que exista uma paixão contemporânea por oferecer nomes modernos para conceitos muito antigos (república virou “co-living”, não cair no papo da empresa virou “quiet quitting”, já vi gente chamando o processo de envelhecer de “adulting”) ninguém pode falar que o conceito de “fake news” é novidade. Sejam os “Protocolos dos Sábios de Sião” ou o “Plano Cohen”, sejam todas as mulheres acusadas de bruxaria ou todos os avistamentos do Bebê Diabo na grande São Paulo, as notícias falsas estão presentes na história humana mais ou menos desde o momento em que existem humanos e existem notícias.
Já as agências de verificação são um fenômeno bem mais recente, que data ali do começo dos anos 2000 e que cresceu em popularidade conforme as redes sociais e a ascensão de uma nova onda de políticos fascistas pelo globo potencializou a mentira descarada como uma ferramenta extremamente eficiente para vencer eleições, desestabilizar adversários ou apenas criar um clima de confusão e caos tão grande que ninguém mais sabe o que é real ou não. “Será que o cara da OMS realmente estava dançando de cropped, galera????”
Ficou então na mão desse tipo de organização oferecer uma análise independente de quais informações eram verdadeiras ou não, de quais discursos continham mentiras ou não, de quais conteúdos você poderia compartilhar com segurança e quais eram apenas papo de maluco que seu tio estava agora replicando pelo Whatsapp.
E ainda que existam várias questões quanto ao trabalho de uma agência de checagem – quem garante a independência dessa verificação independente? como colocar na conta de uma empresa/organização o papel de dizer o que é verdade ou não? – uma questão que começou a me preocupar é como fica a saúde mental das pessoas responsáveis por esse tipo de trabalho.
Afinal, imagine como deve ser a sensação de entrar de manhã no trabalho e ouvir do seu chefe a frase “preciso que você confira pra mim se esses dois homens dançando a música “Infiel” da Marília Mendonça nesse vídeo de churrasco são mesmo os ministros Flávio Dino e José Múcio”? Como devem ficar as propagandas do seu Instagram depois que você pesquisa no Google se é verdadeiro o cartaz anunciando campeonato de masturbação na UFRJ?
Imagine chegar em casa, sua esposa falar sobre como foi o dia de trabalho dela e você não conseguir criar coragem pra dizer que gastou mais de meia hora produzindo conteúdo sobre como o deputado Nikolas Ferreira não realmente tuitou que só bebe leite de macho? Seu sobrinho perguntar com o que você trabalha e você ter flashbacks com o dia em que teve que desmentir a notícia de que Alexandre de Moraes fez um pix de 18 mil reais para uma travesti? (e você nem sabe que problema teria se ele tivesse feito)
Ou, ainda pior do que isso tudo, a dor de ter sido a pessoa responsável por postar que a foto do Papa usando aquele casacão branco estiloso era falsa, sendo o responsável por destruir o pouco de alento e diversão que boa parte da população brasileira teve naquele dia?
Porque quase tão perturbador quanto realmente acreditar nesse tipo de coisa – sabemos bem que uma grande porcentagem da população brasileira está tão distante de qualquer informação verdadeira que no bairro deles já não tem mais ônibus que leve pro mundo real – deve ser passar o dia todo sendo bombardeado pelas coisas mais absurdas que a mente humana é capaz de inventar e ainda ter que dedicar seu tempo a explicar porque nada daquilo é realmente verdade.
Quer dizer, talvez seja um pouco pior trabalhar na Boatos.org, que neste momento tem na sua home “Receita Federal vai instalar maquininha para monitorar seu cartão de crédito em um grande Big Brother”, “Disney anuncia construção de parque em Florianópolis” e “Nubank está dando prêmio de 500 reais nesta páscoa para quem achar ovo de ouro”. Essa galera sinceramente eu não sei como consegue dar conta.
Confere a data
Arnaldo Branco
Vai na minha
Dicas de consumo do pessoal da redação
Ebo Taylor, jogador caro
Gabriel Trigueiro
Bom dia, tropinha. A dica dessa semana é o disco “Love and Death”, do Ebo Taylor – um dos principais nomes da música de Gana, pelo menos desde os anos 1970. “Love and Death” é o primeiro lançamento internacional do sujeito, disco de 2008, com os caras da Afrobeat Academy, de Berlim. Taylor é um nome associado, claro, ao afrobeat, mas também à cena de Highlife e de jazz de África Ocidental e aqui e acolá tem uma sonoridade que guarda semelhanças com o Ethio-jazz de alguém como Mulatu Astatke, por exemplo. Taylor é um gênio musical do mesmo quilate do nigeriano Fela Kuti, e deveria ser tão conhecido quanto.
Going faster miles an hour
Arnaldo Branco
Hoje vou falar de um documentário que evitei por um tempo por conta das críticas que recebeu na época, embora seu objeto de estudo me interessasse bastante: o cozinheiro-rockstar-viajante Anthony Bourdain. Por isso não deve servir muito como dica porque geral já deve ter conferido, mas enfim.
“Roadrunner” (2021) foi acusado de prática antiética por usar um programa de inteligência artificial para reproduzir a voz do protagonista em alguns trechos, recurso que parece ainda mais controverso porque Bourdain cometeu suicídio em 2018. Mas em 2023 essa discussão soa quase ancestral, e conferindo o filme 1) percebemos que são poucas sobreposições, onde sua voz é usada para reproduzir coisas que ele de fato escreveu, mas não gravou 2) o filme tem uma tonelada de depoimentos reais para compensar — claro, o sujeito passou quase vinte anos diante de uma câmera, registrando impressões sobre os diversos lugares que visitou, e falando sobre bem mais do que comida.
Bourdain tinha um espírito explorador e uma curiosidade natural que transformavam seus programas de TV em um ritual de empatia e uma celebração da vida. Esse jeito de ser está bem captado em “Roadrunner”, junto com a angústia existencial que sempre carregou e teve a ver com o modo como decidiu que essa celebração tinha hora marcada para acabar.
O filme só peca pela tentação de alguns depoentes em tentar transformar a atriz e diretora Asia Argento, última namorada de Bourdain, na Yoko Ono da história — ainda mais porque ela não é uma das entrevistadas. Mas até esse fato empresta sinceridade a “Roadrunner” que capta muito bem o quanto ele era amado por seus amigos e o quanto ele faz falta em suas vidas. Nós, como espectadores, entendemos perfeitamente.
O futebol é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes (e um ótimo setup pra falar de canibalismo, cultos e ansiedade)
Americano não é um povo muito chegado ao futebol. Chamam por um nome que ninguém mais chama, inventam umas regras que não fazem sentido e mesmo quando tem a melhor seleção da modalidade, na categoria feminina, não dão ao esporte o crédito que ele merece. Ainda que ok, o que se esperar de uma galera que faz eleição onde não ganha quem tem mais voto e abriu mão do sistema métrico pra calcular distância em milhas, jardas, pés e sei lá, quantas salsichas feitas como se fosse churrasco cabem numa distância.
Por isso é tão peculiar que duas das séries norte-americanas mais interessantes que voltaram agora neste último mês tenham não o beisebol, não o basquete, mas sim o futebol (de gente normal) como pano de fundo.
Primeiro a mais óbvia de todas, Ted Lasso, que retorna para sua terceira – e possível última temporada – com o personagem de Jason Sudeikis e sua turma enfrentando não apenas seus conflitos pessoais mas também o agora grisalho Nate, que passou de fiel escudeiro para vilão, num desses arcos que nos lembram toda aquela coisa do Paulo Freire sobre como se a educação não for libertadora o sonho do oprimido é comprar um terno e se tornar o opressor. Uma série boa para rir, às vezes chorar, com frequencia se pegar cantarolando “Roy Kent, Roy Kent, he’s here, he’s there, he’s everyfuckingwhere”.
E segundo, num gênero totalmente diferente, Yellowjackets, a série de mistério que pode não ter uma mensagem tão positiva mas já no primeiro episódio da segunda temporada tem alguém comendo uma orelha congelada, algo que não se vê todo dia. O excelente elenco com Christina Ricci, Melanie Lynskey, Tawny Cypress e Juliette Lewis retorna com perguntas e respostas sobre o que aconteceu com o time de futebol feminino que, após um acidente, se viu isolado numa floresta e lá, aparentemente, recorreu a clássicos como canibalismo e paganismo para sobreviver, com muitas mortes e profundas sequelas pra quem sobreviveu. E tem gente que fala que futebol feminino tem menos emoção que o masculino.